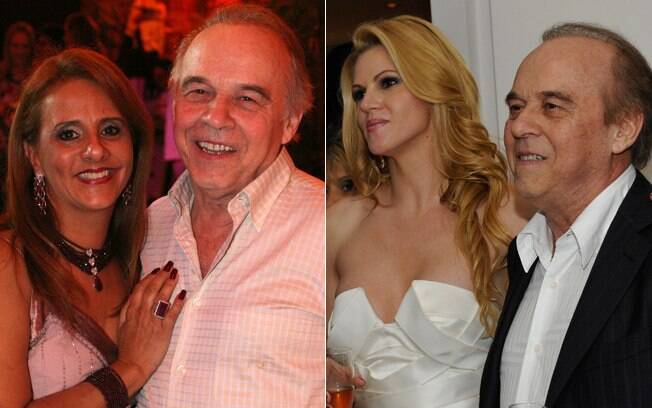São raros na literatura brasileira livros que trazem o futebol como um dos elementos principais em sua narrativa. E para a alegria dos amantes da literatura esportiva, Marcelo Backes, Doutor em germanística e romanística pela Universidade de Friburgo e torcedor ferrenho do Internacional de Porto Alegre, acaba de nos brindar com uma obra-prima, um livro instigante.
Trata-se de O último minuto (Companhia das Letras) que nos revela a história do treinador de futebol chamado João, o Vermelho, como é conhecido, e que está preso, depois de ter cometido um crime, que só será revelado no fim do romance. Atrás das grades de uma prisão, João, o Vermelho, contará sua história de vida para um missionário. No romance de Marcelo Backes, “o futebol funciona, basicamente, como uma metáfora para entender o Brasil e o mundo contemporâneo”.
Literatura na Arquibancada fez um pequeno bate-papo com Marcelo Backes (ver abaixo da sinopse) para descobrir as origens da paixão do autor pelo tema futebol. Mais abaixo ainda, um capítulo do romance no qual Marcelo Backes desfila com maestria seu conhecimento sobre os mais variados temas do futebol mundial. Uma incrível história em que a ficção se mistura a realidade.
Sinopse (da editora):
“O missioneiro era antes de tudo um grosso.” É assim que João, o Vermelho, gaúcho descendente de russos, define sua origem e tenta explicar quem é. Preso por um crime que só é revelado ao final de O último minuto, João, em sua solitária cela de prisão, decide relatar a história de sua vida a um missionário.
Ao tentar dar conta de sua própria biografia, João, nascido Yannick, alternará passado e presente e se perderá em inúmeras digressões, fugindo do assunto central e embarcando em longos discursos sobre o futebol para não encarar a realidade de seu crime. Ex-treinador, João trata o esporte com extrema seriedade, considerando-o “o verdadeiro teatro da existência”, e a maneira como lida com o futebol de certa forma espelha sua visão de mundo.
Através do monólogo virulento de um homem desesperado, Marcelo Backes conduz o leitor pelo interior do Rio Grande do Sul, com suas famílias patriarcais que valorizam a honra e o trabalho duro, passando pela Suíça hipercivilizada e pelo Rio de Janeiro dos dias de hoje.
O último minuto, mais do que uma longa meditação sobre amor e perda, memória e velhice, oferece um retrato impactante de uma geração que luta para se adaptar aos tempos de um país que muda rapidamente.”
Confira o vídeo divulgação do livro de Marcelo Backes
Literatura na Arquibancada:
Relembre sua infância e juventude no "mundo da bola". E as ligações que teve neste universo.
Marcelo Backes:
Eu jogava muito futebol quando era criança, era praticamente a única diversão para uma criança no interior missioneiro. O campo era qualquer superfície, plana ou não, dos barrancos de um potreiro à pista de danças do CTG; a linha lateral era questão das mais complicadas e gozava de uma existência apenas metafísica, quer dizer, na largura o campo terminava onde se tornava impossível disputar uma bola. Cinco ou seis árvores pouco importavam.
 |
| Marcelo Backes com a camisa do Inter e irmãs. |
Um riacho de mais de três metros de largura – a fim de que ninguém pudesse pular sem riscos por cima dele – ajudava um bocado... Um precipício também! O ideal era um barranco íngreme, impossível de ser escalado sem a ajuda das mãos. O caráter fluido da linha lateral muitas vezes dava aos campos do meu interior missioneiro um aspecto pra lá de sui generis; era normal eles serem pelo menos três vezes mais largos do que compridos. A bola era qualquer coisa, de forma arredondada ou não, capaz de ser movida através de um impulso oriundo da extremidade unhosa e bem descalça dos membros inferiores. Nos primórdios do meu futebol missioneiro, bola de meia era luxo, limões vinham bem a calhar no pátio da escola e um recipiente de q boa era o mesmo que a felicidade, um sinônimo perfeito de alegria, me deixava como guri de kichute novo. O arco eram duas pedras, duas mochilas, duas camisas, qualquer coisa. Tudo era desculpa pra jogar bola, disputávamos negras, criticávamos quem jogava mandioca pros porcos no arremesso de laterais, os fuçaides (offsides) preguiçosos e os goleiros gordos de chinelos nas mãos para a bola não doer.
LA:
Você é torcedor do Internacional. Como surgiu essa "paixão"? Cite algum causo interessante.
MB:
Meu pai era torcedor do Inter e eu o bendigo até hoje por ter me feito colorado.
 |
| Alfredo Backes, pai de Marcelo, o 4º agachado da esquerda para direita. |
Eu sou da Academia do Povo e me orgulho disso, meu sangue tremula junto quando vejo as bandeiras vermelhas. Sofri a vida inteira com o Inter, e o time também ajudou a me ensinar que a vida é uma sucessão de momentos felizes que não passam de empecilhos até a chegada da grande dor, que é o que vale de fato a pena, porque nos faz pensar, porque gesta artistas. Eu já tinha ganho do Olímpia fora de casa em 89, eu era campeão da Libertadores, e depois perdi em casa, nos pênaltis. Deixei a sala em que assistia o jogo como um ancião, um velho alquebrado, apesar de quase criança, ainda, que só ressuscitaria por alguns minutos em 2006, depois em 2010, já que não vivi a época de ouro da década de 1970, porque ainda estava nos cueiros. Mesmo assim, e ainda que a alegria dure pouco porque sempre fui melancólico, eu quero que o Inter ganhe, eu preciso que o Inter ganhe, quero a migalha de uma esperança em meio a cinco desilusões, e torço todos os jogos. Prefiro ver o Inter jogando contra o Íbis (se bem que contra o Íbis apenas o Grêmio deve ter jogado, e contra o Anapolina, 4X0) do que o Santos contra o Barcelona.
LA:
Cite (e se possível comente) os livros que acha interessante na literatura esportiva.
MB:
Não li muitos livros sobre futebol, bem poucos, na verdade. Um conto ótimo de Lourenço Cazarré, agora o pai do Juliano, chamado "Meia encarnada, dura de sangue", uma grande tragédia em poucas páginas.
Conheço tudo que Nelson Rodrigues escreveu sobre o futebol, mas voluntariamente não me reaproximei dele há vários anos, desde que sabia que escreveria um romance sobre o futebol, mais ou menos em 2006. Conheço o que Camus disse, o que Pasolini disse, embora tenha me afastado também deles. Li algumas coisas muito boas de autores alemães, que lamentavelmente não foram traduzidas, mas não gostei de "O medo do goleiro diante do pênalti" de Peter Handke. E fugi das teses de José Miguel Wisnik em "Veneno remédio" pelo mesmo motivo referido anteriormente, pra não ser afetado por elas, inclusive porque aprecio muito o autor. Eu queria falar do futebol como se ele tivesse acabado de nascer, elaborando o que eu sentia a partir do ponto de vista de um treinador grosso em conversa com um missionário que não entende nada do ludopédio e usa duzentas luvas de pelica ao lidar não apenas com o futebol, mas com o mundo.
“O último minuto”
Capítulo 23
Por Marcelo Backes
Obs: as fotos utilizadas abaixo não fazem parte da obra. Foram utilizadas como simples ilustrações e para aguçar ainda mais a imaginação de você, leitor.
Já me chamando de colorado, um sorriso ralo no rosto, ele insistia em dizer que o futebol desde sempre havia sido uma metáfora formidável, uma comparação que como nenhuma outra dava conta das potencialidades da vida real. O futebol era o verdadeiro teatro da existência, o maior circo de todos os tempos, a última representação sacra da contemporaneidade. Um rito, no fundo, a religião popular dos que ainda não haviam se entregado toscamente ao neoevangelismo, e bebiam seu pão e seu vinho em doses fartas de cerveja e salgadinhos vendo a bola rolar.
O futebol era o espanto popular, a linguagem universal em que as pessoas podiam aplaudir o preço do bilhete de entrada, e ainda por cima de um concerto do qual inusitadamente compreendiam todas as notas. Sim, o futebol era o único lugar em que até ao mais macho dos homens era permitido se mostrar histérico, segundo ele, uma das poucas manifestações capazes de mostrar com fidelidade um bom pedaço do universo.
Ainda que o mesmo futebol, seu futebol, seu amado futebol, estivesse cada vez mais dessacralizado pelos interesses sempre escusos da moeda e das negociatas, uma boa partida continuava sendo uma imitação do mundo, com suas regras, seus uniformes, seus aliados e seus inimigos, divididos em times. Assim como na vida, no futebol se corriam riscos, precisava-se de ousadia, necessitava-se de solidariedade, de calma, e inclusive de renúncia e de sacrifício subjetivo em favor da equipe. Até Lula, o Luiz Inácio, sabia disso, e Angela Merkel com todas as suas saias de matrona horrorosa também se aproveitava da potência metafórica do futebol pra angariar adeptos bem medidos em votos.
O futebol era sempre a luta de um contra o outro pela mesma coisa, a bola, esse couro arredondado entre dois leões, que fazia nascer toda a barbárie e toda a glória ao mesmo tempo, talvez mais até do que numa briga comum, quando o ataque era direto, mano a mano, e não havia nada no meio a ser disputado. Do comportamento típico de um homem que xingava a mãe do juiz no estádio e nem por isso matava o encanador inepto que lhe inundava o banheiro, ao vaivém escuso do dinheiro no mercado internacional, a bola invocava os sentimentos mais íntimos dos espectadores numa grande catarse coletiva, e ao mesmo tempo arrancava todo tipo de véus mais ou menos sutis que encobriam as almas das gentes e dos negócios.
Se eu observasse bem, ele dizia, e a antropologia do discurso já me agradava, era possível até compreender melhor o comportamento de determinados países avaliando o futebol que praticavam, e não era necessário ser diplomata nem estadista para constatar que era exatamente assim. Por acaso o estilo holandês característico da laranja mecânica não tinha algo a ver com o conceito de espaço nos Países Baixos e com a necessidade histórica de ganhar terra ao mar através de diques e canais construídos segundo um pensamento extremamente geométrico e estratégico, avançando a linha de defesa pra abiscoitar espaço? E não adiantava vir com Barcelonas e quejandos quando os professores eram holandeses, a começar por Johann Cruyff, uma espécie de pai do referido Pep, Guardiola do futebol, e ele ademais só tinha a dizer que não era, nem de longe, a primeira vez, e bastava pensar dialeticamente e conhecer os ensinamentos da história, que a Espanha invadia e conquistava terras batavas.
 |
| Cruyff e Guardiola quando jogador do Barça. |
E a Alemanha, então? Ele via até na mãe dele, a dona Maria de tantas saudades, aquele espírito de luta, aquela obrigação de vencer, sustentada pelo uso otimizado das forças, e um uso otimizado racionalmente, seja dito. E nele mesmo também, com os cinquenta por cento do sangue que recebera e um vínculo atávico que talvez fosse maior com a mãe. Pelo menos fora isso que pensara durante um bom tempo, agora sabia que talvez não fosse bem assim.
Aliás, não era em vão que creditavam a mais de um, na Alemanha a Gary Lineker, o craque inglês, no Brasil a Jorge Valdano, o craque argentino, a sentença de que o futebol era um jogo de onze contra onze em que no final os alemães sempre saíam vencedores. Quando estava na Suíça, havia lhe dito que na Alemanha o futebol era tão importante que muitos defendiam a tese de que fora a Copa de 1954 e o assim chamado Milagre de Berna que concederam identidade à nação e a cada um de seus indivíduos depois da tragédia da Segunda Guerra Mundial. Na já tantas vezes referida copa de 2006, que ele tentara acompanhar de perto nos devãos de sua fuga desesperada, em bares de Aquidauana, restaurantes de Pedro Juan Caballero, hotéis de beira de estrada em Santa Ana de Chiquitos, obrigado a substituir o mate pelo tererê, essa identidade germânica até começara a desfraldar bandeiras.
Do mesmo jeito, o futebol podia explicar muito bem e com os melhores exemplos aquilo que chamavam por aí de mundo globalizado, e esclarecer por que a torcida ainda jogava bananas nos chamados atletas de cor em campeonatos como a libertadores e as seleções nacionais não encantavam mais como no passado, levando os torcedores a se tornar cada vez mais fãs de seus clubes e a esquecer suas pátrias. A identidade nacional, o vínculo com a seleção do país, ia sendo morto aos poucos, ao passo que a fidelidade local aos clubes aumentava, inclusive atiçando movimentos xenófobos em algumas agremiações de larga tradição racista. Se eu sabia, por acaso, mas eu mais uma vez não devia saber, que havia dois irmãos Boateng até bons de bola, e um jogava pela seleção da Alemanha, enquanto o outro, que ganhava seu dinheiro na Itália, defendia a seleção de Gana?
Até mesmo a pátria do Brasil deixara de usar chuteiras, também porque a maior parte dos seus representantes nem jogava no país e aliás estava longe de representar qualquer característica mais brasileira e o que quer que fosse em termos de peculiaridade nacional. E as raras exceções que mereceriam algum riso, uma lágrima, não eram contempladas porque ofuscadas pelas negociatas que envolviam o esporte, apostas milionárias viciando resultados e ganhando cada vez mais espaço, sempre pelas beiradas, manipuladores virtuais fazendo um íbis marroquino derrotar o Araripina colombiano com um gol calculadamente situado aos quarenta e três minutos do segundo tempo, sem contar os eternos cartolas matando paixões à força de interesses.
 |
| Cristiano Ronaldo |
Dia desses ele até lera o que lhe pareceu ser um grande teórico da arte, alemão pelo nome, os alemães eram mesmo bons nessas coisas, começavam seus raciocínios recuando mais ou menos oitocentos anos pra só então chegar à realidade presente, um tal Alfons, Alfonso, Afonso, seria Alonso, ele achava que era Afonso Hugo. Até recortara o troço. Pois o tal Afonso, ou Alonso, dizia que o futebol era um tema sempre no limiar entre identidade nacional e globalização, e que não eram poucos os clubes que se transformavam em globalplayers, e na condição de ingleses, por exemplo, colonizavam torcidas africanas. Segundo o homem, o mesmo Afonso, sim, Afonso, não era por acaso que o espírito da época fazia com que a transferência de Cristiano Ronaldo do Manchester United para o Real Madrid custasse exatamente o mesmo que uma obra de arte extraordinária, parece que se tratava de uma escultura, um tal de homem que marchava, de um Alberto Giacometti. Pouco mais de cem milhões de dólares, cada um deles, jogador e obra.
Por acaso isso não era interessante, ele me perguntava, talvez querendo ouvir alguma coisa, mas eu já me acostumara a meu silêncio sem respostas e nada disse, embora sentisse vontade de lhe assegurar num sussurro que um grito, se bem pintado, podia ser ainda mais caro. Quando o texto do referido Afonso começara a esboçar teses sobre a aura num mundo de cópias, ele disse que se perdera um pouco e achara que não precisava ler mais pra entender muito bem o que estava dito. Naquela Anharetã, todo mundo aprendia já de fraldas a ver que cisco era Francisco.
Ademais, o futebol era e continuava sendo um dos recursos mais eficazes no sentido de proporcionar ascensão social a quem talvez jamais a alcançasse sem ele, transformando os habitantes de um país como o Brasil em verdadeiros brics da individualidade, ao lhes conceder através da bola um crescimento econômico incomparável, distribuição de renda na família e possibilidade dinâmica de subir os degraus caquéticos da vida. Mas nem tudo estava dito e resolvido com esse precário pontapé na estagnação. E ele perguntou, perguntava cada vez mais, se eu já percebera que os árbitros e os treinadores no Brasil eram todos brancos, quase todos brancos, e os jogadores eram todos pretos, quase todos pretos. Pra ser juiz, pra ser técnico era preciso estudar, e estudar bem, de algum jeito, e isso já respondia de cara à questão, apesar de muitos continuarem roubando depois, ou errando de um jeito canhestro. Só nisso já dava pra ver a desordem social que continuava mandando no país e desmascarar um punhado de gente que gostava de falar de justiça no futebol, se fazer de bonzinho e botar banca de politicamente correto, dizendo que pelo menos nos gramados o racismo não existia.
 |
| Rashidi Yekini, autor do 1º gol da Nigéria em Copa do Mundo. |
Mas se o futebol ajudava a equilibrar algumas situações em sua representação parcialmente civilizada da guerra, que nas copas do mundo ainda permitia ver países em luta uns com os outros, fazia bem mais do que isso, em que pese a bola nas costas, chutada por alguns cartolas, capazes inclusive de cobrar a fidelidade do jogador ao dinheiro do time, lutando pra que ele abandone sua seleção distante, embora ao mesmo tempo lucrem com o fato de esse mesmo jogador se legitimar como herói nacional. E ele dizia que no continente africano muitas vezes se pensou na paz só pra poder ver uma partida de futebol, e sobreviventes de países como Togo ou Angola já podiam se considerar cidadãos de repente, só porque suas pátrias participaram de uma copa do mundo. Que o falecido Yekini, que aliás até lembrava, este sim, o centroavante reserva, apesar de mais escuro, ao fazer o primeiro gol nigeriano na maior das competições internacionais em 1994, correra para a meta, agarra as redes, sacudindo-as alucinadamente, e levara todo um planeta à comoção ao gritar como se quisesse que o povo inteiro de seu problemático país o ouvisse. Mas num mundo em que crianças ainda jogavam bola com as cabeças de outras crianças ao se instalar o menor escarcéu, o buraco continuava sendo bem mais embaixo.
Se a América Latina por um bom tempo havia sido um grande celeiro de recrutamento exploratório pra grandes clubes europeus, posição sobre a qual o Brasil agora avançava imperialisticamente cada vez mais, diziam que nos Bálcãs às vezes paravam a guerra, que sérvios e croatas botavam um basta na carnificina pra jogar uma pelada de algumas horas, até que alguém voltasse a dar um tiro. Lera um capítulo brilhante a respeito num romance que quase por acaso caíra nas mãos do filho certa vez, devido a uma matéria numa revista de rock. O livro, o filho logo desistira dele, falava, no título, de um soldado que consertava um gramofone.
Mas se a onu lúdica do futebol era capaz de prestar serviços maiores que os de qualquer tropa de capacetes azuis, também congregava em suas hostes algumas das figuras mais corruptas do mundo, sempre dispostas a lavar dinheiro, explorar, buscar a maximização do lucro em negócios gigantescos que avançavam gananciosamente sobre os continentes mais pobres, levando adiante a exploração sempre tão fundamental à sobrevivência do capitalismo. Um clube de futebol tinha direitos que nenhuma outra empresa tinha, e muitas vezes só sobrevivia exatamente por causa da má gestão. E era esse o mundo em que ele, mero sujeitinho apaixonado desde o princípio, João, o Vermelho, derramara seu sangue, bebera seu sangue...
Ah, os Bálcãs.
Quando era criança ele torcida pela Iugoslávia na copa do mundo, nem de longe por causa dos cinquenta por cento do sangue eslavo, até porque a União Soviética seria muito mais próxima, nesse caso, mas porque achava o nome bonito. Iugoslávia...Quando adulto, vira que eles jogavam bem de verdade, e vivera com alguma dor o futebol se acabando durante um bom tempo, porque o país era despedaçado por uma guerra cheia de interesses.
Sobre Marcelo Backes:
É escritor e tradutor brasileiro nascido em Campina das Missões (RS), em 1973. Em sua obra, destacam-se os romances maisquememória (2007) e Três traidores e uns outros (2010). Doutor em germanística e romanística pela Universidade de Friburgo, Backes verteu ao português obras de Arthur Schnitzler, Franz Kafka, Hermann Broch e outros.